Denis Leandro - dissertação sobre Que Farei Quando Tudo Arde?
“Quis escrever um livro sobre a identidade, fazendo várias interrogações que se colocam de um modo especial num travesti.”[1] Assim António Lobo Antunes resume [o] seu 15º romance, Que farei quando tudo arde?, publicado em 2001 [...]. O livro é, de facto, uma narrativa sobre a identidade e, sendo sobre a identidade, é também sobre o passado, sobre a origem e todo o emaranhado inextrincável que essa questão arrasta consigo.
Sobre o abismo da origem lança-se Paulo, narrador privilegiado no texto, que elege como pai um travesti de nome Soraia – que quando livre das plumas, lantejoulas e cabeleira postiça, dos enchumaços nas nádegas e no peito e da boca pintada, chama-se Carlos. A origem está já rasurada, tão indefinida e insondável, tão improvável como a sexualidade de Carlos/Soraia, a origem “suposta”.
O romance conta a conturbada história da personagem-narradora, atravessada por uma infância caótica, marcada pela indiferença paterna, pela dor e revolta de aperceber-se filho de um pai desajustado a este papel. Filho de um “palhaço” – como ele próprio afirma – sempre a remexer estojos e frascos de silicone, atormentado por uma sexualidade imprecisa, e de uma mãe ausente, aprisionada pela memória de um marido que nunca teve: Carlos casou-se com Judite, uma ex-professora primária que, no presente da enunciação, é uma decaída prostituta de 44 anos, alcoólatra e solitária. A infância surge, pois, em imagens dialéticas: é o lugar da perda e da morte – da negatividade, portanto –, mas também único espaço possível de retorno, sem, contudo, apontar para uma tentativa de recuperação, de plenitude do passado ou do que quer que seja. Como positividade, a infância é, aqui, um “desejo da infância”, muito mais que a sua idealização enquanto um “paraíso perdido”.
As histórias apresentadas no romance passam-se em espaços nunca pacíficos: o Bico da Areia é o lugar da saudade, mas também da ruptura, de onde Paulo foi tirado dos pais e levado ao casal de velhos que o criou, nos Anjos, e com o qual estabelece uma relação ambivalente, de amor e de resistência a este amor; o Príncipe Real – onde o pai passa a viver após embarcar na camioneta de Lisboa e abandonar a família, levando consigo no braço apenas o que se afigurou um casaco de mulher – é o local no qual Carlos atende seus clientes e recebe seus amantes: em sua casa não há lugar para Paulo e nela este será sempre um intruso. Espaços, portanto, profundamente marcados pela perda e morte dos mitos e afectos do passado ou pelos desencontros, incompatibilidades e cortes nas relações do presente.
O romance é a história dessa família lacerada, mas é também a história de diversas outras personagens que caminham, igualmente, por esse universo esfacelado pela dor e pela ausência: é a história de Gabriela, jovem namorada de Paulo, que perde o pai e se sente eternamente desamparada por essa perda; de Rui, órfão de pai e mãe, tratado com indiferença pela tia e que procura repouso no vício da heroína; ou a de Dona Amélia, velha de 73 anos que gasta os dias a vender [rebuçados] e cigarros na casa nocturna onde Soraia se apresenta; é também a história de um jornalista decadente de 62 anos, que todas as noites põe o prato de sua ex-mulher à mesa e se põe, igualmente, a sua espera, à espera do que não virá; é ainda a história de Luciano, médico lumbago e hipertenso que vê todos à sua volta como caveiras ambulantes e cuja amante, bem mais jovem que ele, nunca responde a seus gestos de carinho e atenção; ou ainda a história de Dona Helena e de seu marido – pais adoptivos de Paulo –, cuja filha, Noémia, morta aos onze anos de meningite, acaba por morrer uma segunda vez quando aquele que seria seu substituto – substituto para a dor trazida pela sua morte – vai-se embora de casa.
Em todos esses excertos de histórias, as personagens, as relações interpessoais e os espaços – notadamente as casas, esse locus familiar por excelência – são inscritos sob o signo da finitude e do precário: ao que parece, os anti-heróis de Lobo Antunes, não somente quando morrem, mas ainda e principalmente quando vivem, é pelo espaço da morte que transitam e é nele que cumprem suas atitudes, é ao tempo indefinido do morrer que eles pertencem.
Configurando-se como uma espécie de não-romance ou um romance às avessas, o livro divide-se em 32 capítulos não enumerados ou intitulados, compostos de fragmentos de histórias e suas variadas versões apresentadas fora de qualquer lógica convencional de cronologia, histórias repletas de avanços e recuos no tempo, numa torrente vertiginosa que desconhece pontuação, sintaxe ou paragrafação, valendo-se, inclusive, de procedimentos típicos da linguagem poética, como a metáfora e a metonímia, fazendo com que a narrativa esteja sempre a meio caminho entre a prosa e a poesia.
O livro obriga o leitor a uma revisão dos procedimentos de leitura empregados [n]um romance convencional: nada é aqui claramente determinado, nem o tempo, nem o espaço, nem as próprias histórias que apresentam, quase todas, versões diferentes e mesmo antagónicas sobre os destinos das personagens – que podem, com a mesma plausibilidade, ter morrido de [SIDA], ou se afogado, ou ainda se suicidado nas águas escuras do Tejo. Assim, a fragmentação do sujeito ocorre no texto – que não responde a um projecto totalizante, não havendo, pois, uma solução narrativa para tantas versões inconciliáveis e dispersas dos fragmentos de histórias apresentadas – e se dá, também, na própria superfície da página, com frases interrompidas e inacabadas e as intromissões constantes de vozes narrativas sem qualquer demarcação.
A literatura contemporânea, sem dúvida, tem aqui um d[os] seus representantes mais audaciosos e competentes no que concerne aos procedimentos de referencialização e construção textual, como talvez nunca antes se viu na história da literatura de Língua Portuguesa. Estamos, sim, diante de uma outra forma de narrar, muito diferente daquela do romance tradicional do século XIX: uma narrativa que parece supor, em si mesma, uma certa conivência com a morte e o efémero, uma escrita que tem sua morada, paciente e perseverante, no desmoronamento. Narra-se contra a verossimilhança e a representação, num esvaziamento da mimese que parece instar por uma “apresentação” das coisas.
Mesmo com toda a subversão do realismo tradicional que o texto opera, fisga-se ainda, como não poderia deixar de ser, alguns alinhavos de real: o romance teria sido escrito a partir da história de Ruth Bryden – grande ícone do travesti em Portugal que, semelhantemente à personagem Carlos, casou-se, teve um filho, separou-se e morreu tragicamente em 1999. O nome do narrador é o mesmo do namorado de Ruth, Paulo Oliveira, que se suicidou na praia da Fonte da Telha, aliás, mesmo lugar onde Rui, namorado de Soraia e quinze anos mais jovem que ela, é encontrado morto pela polícia. Mas o romance de Lobo Antunes afirma-se como ficção e os fragmentos de histórias nele narrados não adentram trilhas biográficas.
No “último” capítulo do livro – espécie de epílogo para todas as histórias –, o leitor reencontra em Paulo a figura do pai, numa identificação que parece revelar uma certa dimensão cíclica das coisas ou, mais ainda, a sua permanência desde o início: as coisas não exactamente retornam porque, na verdade, nunca saíram de lá, permanecem sempre presentes, em profundidade, algumas vezes diluídas e apagadas, quase esquecidas, outras absurdamente pesadas e visíveis. A escolha de Paulo pelo nome Soraia é sua derradeira homenagem ao pai, cujo lugar passa a ocupar, numa transformação/revelação anunciada, em verso, desde a epígrafe do livro:
Eu sou tu e tu és eu; onde estás eu estou e em todas as coisas me acho disperso. Seja o que for que encontres é a mim que encontras: e, ao encontrares-me, encontras-te a ti mesmo.[2]
As indagações que as personagens lançam, incansavelmente, a si mesmas e ao Outro em seus imensos monólogos permanecem, quase sempre, sem resposta, ecoando, incessantemente, pelo texto. Talvez porque, nesse universo de Lobo Antunes, nesse mundo de órfãos irredimidos onde absolutamente tudo arde, não há verdade alguma possível e perguntar seja, em si mesmo, um acto inacabado e sem pouso. À belíssima pergunta-título do livro segue-se, em 637 páginas, uma única certificação: de que “passamos a vida a fazer perguntas. E vamos morrer sem saber as respostas” [3].
[1] Entrevista concedida por António Lobo Antunes à revista Visão, n. 450, 18 Out. 2001.
[2] ANTUNES, 2001. p. 9.
[3] Entrevista concedida por António Lobo Antunes à revista Visão, n. 450, 18 Out. 2001.
Referências bibliográficas
ANTUNES, António Lobo. Que farei quando tudo arde? Lisboa: Dom Quixote, 2001.
Visão, Lisboa, n. 450, 18 Out. 2001.
por Denis Leandro
em Revista do Centro de Estudos Portugueses
2005
[revisão do texto por José Alexandre Ramos]

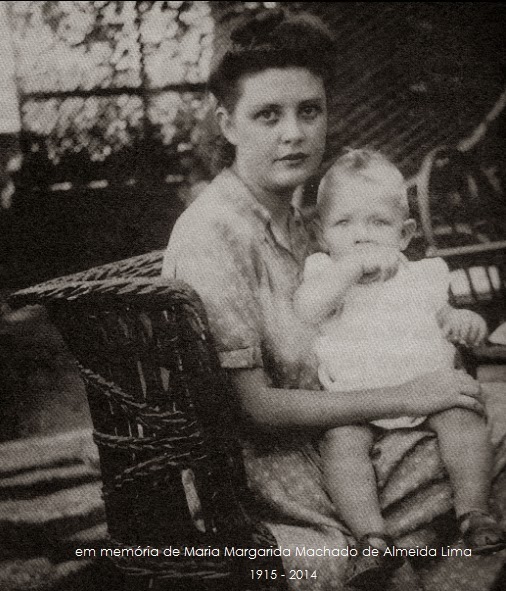
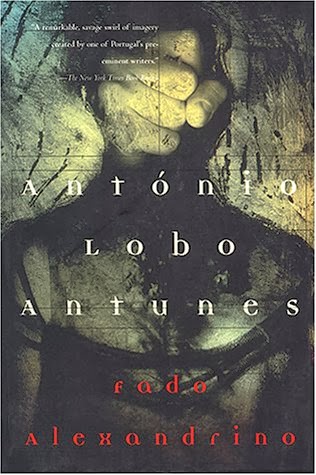


.jpg)
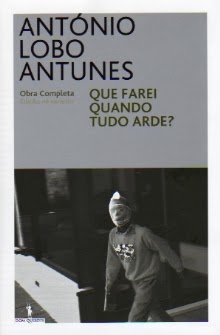

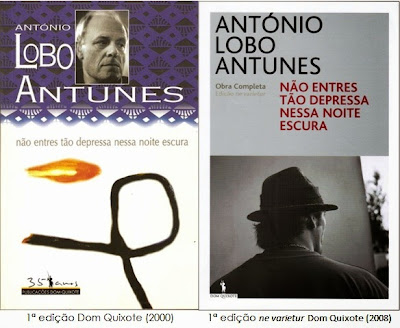
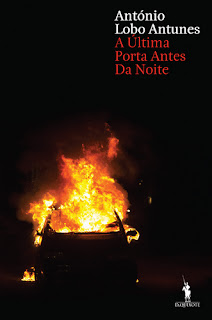
Comentários
Enviar um comentário